Para Inspirar
O quinto episódio da décima sexta temporada traz a história de vida e paixão pelo viver que Patricia Fonseca soube ter mais do que ninguém.

[trilha sonora]
Patricia Fonseca: Eu brinco que sou a verdadeira história de Benjamin Button. Aos 30 anos de idade, eu já tinha passado pela velhice. Só depois do transplante eu fui descobrir o que é ter uma juventude cheia de vitalidade.
Geyze Diniz: Patricia Fonseca nasceu com uma cardiopatia congênita grave. Por várias vezes, os médicos disseram que ela tinha poucos meses ou poucos anos de vida. Mas, contra todos os prognósticos, ela sobreviveu. Patricia passou por um transplante de coração, se tornou atleta e transformou a doação de órgãos como a sua missão de vida. Eu sou Geyze Diniz e esse é o podcast Plenae. Ouça e reconecte-se.
[trilha sonora]
Patricia Fonseca: Eu era recém-nascida na primeira vez que eu fui desenganada pelos Eu era recém-nascida na primeira vez que eu fui desenganada pelos médicos. Minha mãe conta que eu era um bebê que só chorava e tinha dificuldade para mamar. Quando eu tinha 20 dias de vida, ela percebeu que eu estava com a pele roxa.
No desespero, ela saiu correndo comigo para o pronto-socorro, só de camisola. Assim que a gente chegou, eu fui internada na UTI pediátrica. Nesse mesmo dia, minha avó diz que viu os médicos fazendo massagem cardíaca três vezes para me reanimar. Imagina essa cena. Um bebezinho de 20 dias.
[trilha sonora]
Os exames mostraram que eu tinha uma cardiopatia congênita. Era um problema que fazia o meu coração bater com pouca força. Lá mesmo no hospital, os médicos chamaram meus pais de canto para explicar que eu não completaria um ano de idade. Depois, disseram que eu não passaria dos três.
Quando eu completei 14, tive que fazer uma operação de urgência, e me deram uma semana de vida. Aos 20 anos, eu fui internada de novo e falaram que eu não viveria mais do que seis meses. Com 30, parecia o fim da linha. Eu fui salva tantas vezes que não tem como não acreditar em milagre.
[trilha sonora]
Eu tive a sorte de crescer numa família sensível que não tornou as minhas limitações mais pesadas do que elas precisavam ser. Eu sabia que eu tinha um “probleminha no coração”, como meus pais diziam, mas sem tanta consciência sobre o tamanho da encrenca. Minha mãe falava assim: “Sai da piscina, sua boca está roxa! Para de pular, sua boca está roxa!”. Eu achava que eu tinha também algum problema de boca. Mas, na verdade, era o meu coração que não dava conta de bombear sangue para as extremidades do corpo.
Eu não fui, assim, a criança mais energética na escola. Eu era proibida de fazer educação física, e ficava assistindo às aulas na arquibancada, morrendo de vontade de participar. Nas brincadeiras, eu não era chamada para fazer parte das equipes ou era a última a ser chamada, porque eu não tinha força para correr ou atirar uma bola. Eu só fui entender a gravidade do meu “probleminha de coração” quando eu passei por uma cirurgia aos 14 anos.
[trilha sonora]
[trilha sonora]
Meu pai sempre gostou de jogar baralho e aquela metáfora fez um clique na minha cabeça. Eu acho que um dos maiores exterminadores da felicidade humana é a comparação. Meu coração segurou as pontas até os 20 anos de idade, quando eu tive uma arritmia grave. A essa altura, os outros órgãos estavam sobrecarregados. Meus rins não funcionavam tão bem e o pulmão estava com hipertensão.
O médico disse que eu precisava escolher entre a faculdade de economia e o estágio. Eu larguei o trabalho, mas meses depois eu tive que trancar o curso também. Meu corpo simplesmente não tinha forças. Eu me consultei com uns quatro ou cinco médicos. O primeiro falou assim: “Você tá no fio da navalha, menina. Não te dou nem 6 meses de vida”.
A partir daí, meus pais iam na consulta antes de mim. O padrão de comportamento dos cardiologistas era assim: eles olhavam meus exames, olhavam para mim, olhavam os meus exames e faziam cara de velório. Nessa época, já se falava sobre a possibilidade de um transplante de coração. Só que meu corpo não ia aguentar um procedimento tão invasivo. Meus pais não queriam que eu perdesse a esperança, então eles me contaram uma versão alternativa. Segundo eles, era melhor que eu me tratasse apenas com medicamentos.
Eu li romances, livros de filosofia, de espiritualidade, de autoajuda. A leitura abre a mente. Primeiro, porque você entende que não é o umbigo do mundo. Tem coisa muito pior acontecendo por aí. Segundo, porque ganha perspectiva, ferramentas e ideias que você pode agregar na sua vida. Os livros foram uma parte importante do meu tratamento, porque me deram recursos para construir a minha própria narrativa.
[trilha sonora]
Depois de um ano, eu voltei para faculdade devagar, pegando duas ou três matérias por semestre.
[trilha sonora]
Demorei oito anos para me formar. E aí, quando eu estava com 29, eu finalmente me tornei elegível para o transplante, graças a um novo medicamento que podia controlar o meu coração durante a cirurgia. Só que eu estava bem fraca. Eu passei três meses na UTI esperando um novo órgão. A UTI é um espaço temporal fora da realidade comum. Um dia ali vale uma semana. Uma semana parece um ano, porque o tempo, simplesmente, não passa.
Eu entrei num estado de ansiedade, porque eu achava que cada pessoa que falava comigo ia trazer a notícia de que o coração tinha chegado. Para não ficar maluca, eu procurava picotar o problema em pedaços pequenos. Eu mentalizava assim: “Hoje vai ser um dia bom; Essa noite eu vou dormir”. Eu procurei me agarrar em tudo que pudesse pra me trazer esperança. Todo dia, eu rezava para um monte de santos e entidades, de tudo quanto é religião. Eu fiz uma lista com 22 nomes para quem eu rezava todos os dias. Parecia chamada de escola.
[trilha sonora]
Na véspera, eu fui dormir pensando: “Amanhã vai ser um dia bom”. De manhã, eu ainda estava dormindo, quando uma enfermeira de cabelos longos e loiros entrou no meu box e falou: “Pati, atende o celular, é o seu médico”. Aí eu pensei: “Que bonitinho, ele quer ser o primeiro a me dar parabéns”. Só que ele disse: “Patricia, aguenta firme. O coração chegou!”
[trilha sonora]
[trilha sonora]
Nos 10 anos anteriores ao transplante, eu só podia tomar 1 litro de líquido por dia, contando o das refeições, porque os meus rins estavam sobrecarregados. Então eu passava sede. E a minha primeira refeição depois da operação foi líquida. Uma pessoa trouxe uma bandeja com dois sucos, uma água de coco e dois iogurtes, pedindo desculpa por só ser aquilo. Eu falei: “O quê?! É o meu sonho!”
A previsão era que eu ficasse no mínimo 15 dias na UTI. Eu fiquei 5. No terceiro dia, eu já estava de pé. Lembra do papelzinho amarelo com o desejo “recuperação recorde”? Com um mês de transplante eu já estava na academia do hospital. Eu precisei reaprender a sentar e a andar, porque eu fiquei meses de cama. Em um ano, eu estava correndo. “Coração de atleta.”
Mas correr só era pouco, porque eu queria nadar. Quando me liberaram, eu fui pra piscina também. Mas eu queria mais, e comecei a pedalar. E aí eu descobri que existiam as Olimpíadas dos Transplantados, que é um evento reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. Eu me inscrevi nos Jogos e o ápice da minha vida foi competir no triathlon, em Málaga, na Espanha. Eu fui a última a chegar, mas dane-se. Eu estava tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz, que eu comemorei com toda certeza mais que o primeiro colocado. Eu virei uma atleta.
[trilha sonora]
E eu me tornei uma ativista também. Depois da cirurgia, eu fundei o Instituto Sou Doador, uma ONG que tem o objetivo de zerar a mortalidade na fila de espera por um órgão. Em 2019, eu escrevi uma lei chamada Lei Tatiane, em homenagem a uma amiga que esperou por dois anos por um coração, mas não aguentou. Em novembro de 2023, a Lei Tatiane foi sancionada. Agora, é obrigatório no Brasil que toda escola e faculdade fale sobre doação de órgãos e transplante.
[trilha sonora]
Ao longo desses anos de luta, eu percebi que a única coisa que falta no Brasil pra aumentar o número de transplantes é informação. Ninguém é obrigado a ser doador. Cada um tem o direito de escolher a sua preferência. Mas se a pessoa nunca ouviu falar sobre esse assunto, como esperar que na hora de um familiar discuta se vai doar ou não? Eu passei por isso. Oito meses depois do meu transplante, a minha mãe faleceu. Mas a gente sabia que ela queria ser doadora, então a gente doou as córneas dela.
A Lei Tatiane entrou em vigor em fevereiro de 2024, mas ela precisa ser aplicada. O Instituto Sou Doador criou um guia didático gratuito disponível para todas as escolas do Brasil. Além disso, a gente desenvolveu um curso online gratuito para capacitar os professores. Assim, eles podem levar para sala de aula um conteúdo de qualidade, sem tabu, sem misticismo e com consciência. Quando você educa uma criança, educa um país inteiro, porque a criança leva o tema para dentro de casa.
Você que está ouvindo esse podcast também pode ajudar a espalhar essa mensagem. Pergunta na escola do seu filho ou do seu bairro se eles tão falando do assunto. O Brasil tem o maior sistema de transplante de saúde pública do mundo. A gente tem a rede, a tecnologia e os médicos.
Mas o número de doações é pequeno e as filas são grandes. Isso não faz sentido num país tão generoso e empático quanto o nosso. Doação de órgãos não tem nada a ver com morte. Só tem a ver com vida, com saúde, com renascimento. A minha mãe não podia ser salva, mas duas pessoas no Brasil enxergam por causa dela. Onde ela estiver, ela colhe os frutos desse gesto de amor.
[trilha sonora]
Geyze Diniz: Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenae.com e em nosso perfil no Instagram @portalplenae.
[trilha sonora]
Brincar não é coisa de criança, apesar do fato delas fazerem isso com maestria.

Brincar não é coisa de criança, apesar do fato delas fazerem isso com maestria. E um dos grandes erros que cometemos quando crescemos, aliás, é abandonar o lado lúdico da vida e nos debruçarmos somente sobre as dificuldades da rotina.
Ainda que a ciência insista nos benefícios da diversão para a nossa saúde de forma geral, seguimos sufocados por uma lista de afazeres que não contempla essa atividade como algo legítimo e igualmente importante a todas as outras. Olhamos com certa arrogância para aqueles que ousam subverter essa lógica e taxamos como infantil o adulto mais sábio de todos: aquele que resiste às pressões internas e ainda brinca.
É nesse não-brincar que vemos a nossa criatividade e capacidade de solucionar problemas e enxergar sob outras ótimas morrerem. É no não-brincar que abrimos espaço na cama para o esgotamento físico e mental, para a seriedade que endurece nossos sorrisos, para um comportamento cada dia mais inflexível diante de qualquer imprevisto.
Abandonar a sua criança interior em um cantinho escuro e solitário, é assumir que a sua comunicação e até criação de laços mais sólidos e verdadeiros serão afetados. É como clicar em "concordo com os termos de uso" mesmo sabendo que a vida, subitamente, deixará de ser leve, confiável e eficiente.
Nesse mês das crianças, experimente ouvir o que a sua criança interna está tentando te dizer. Estique sua mão e deixe que ela a leve para a próxima brincadeira que ela inventou. Não se esqueça que antes de ser essa pessoa formada, você foi apenas um pequeno curioso, com sede de mundo e urgência em ser feliz, o máximo que pudesse. Por onde ficou essa urgência?

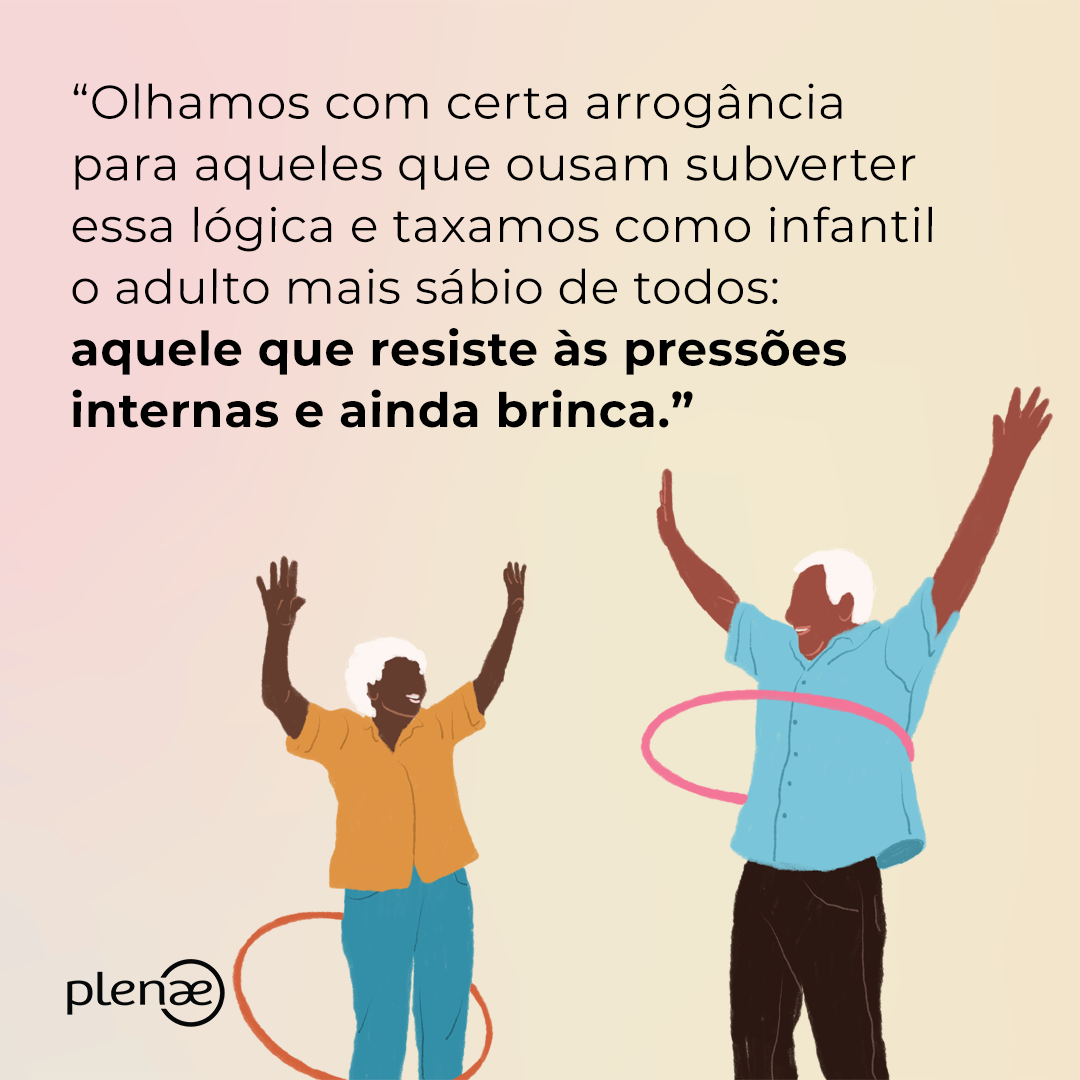
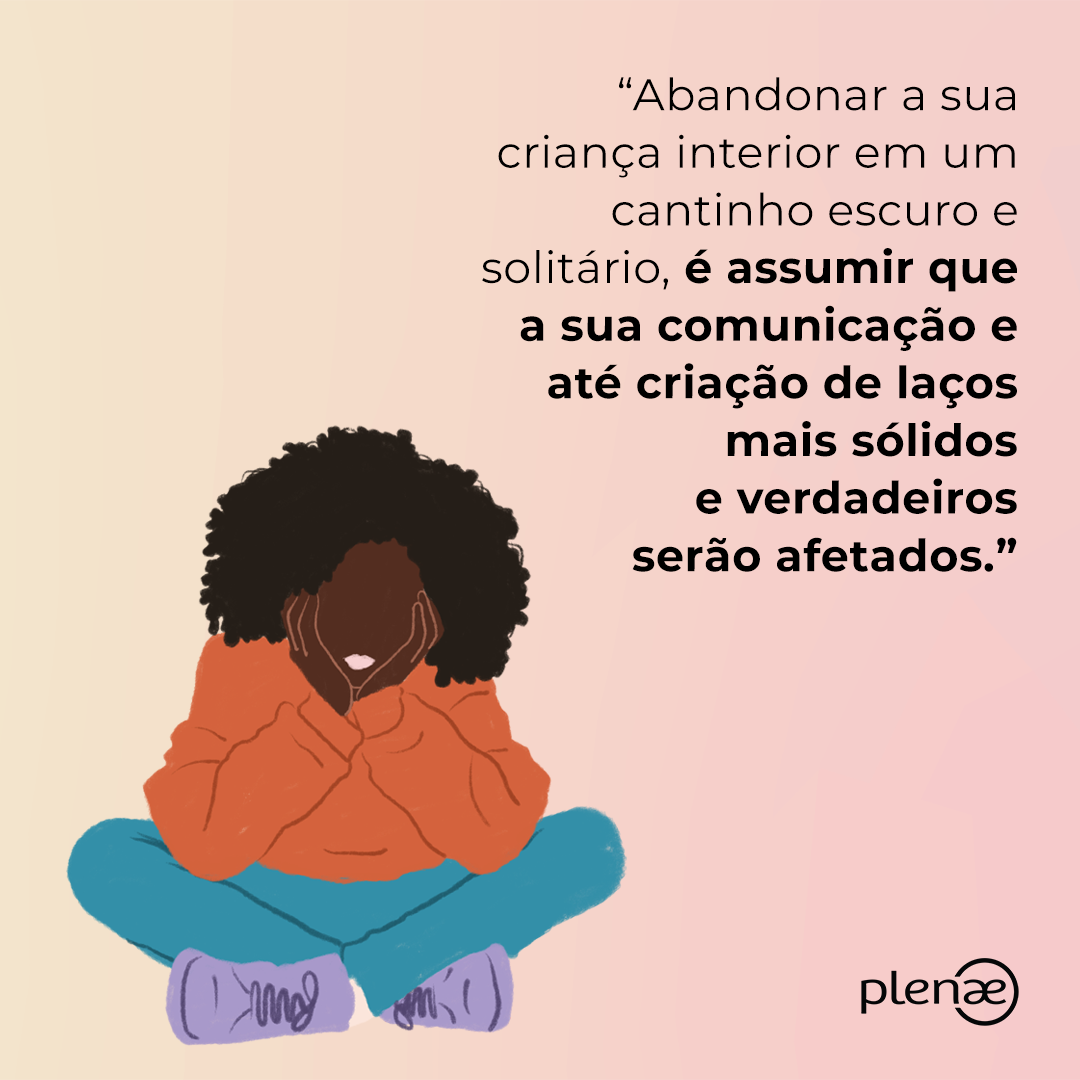
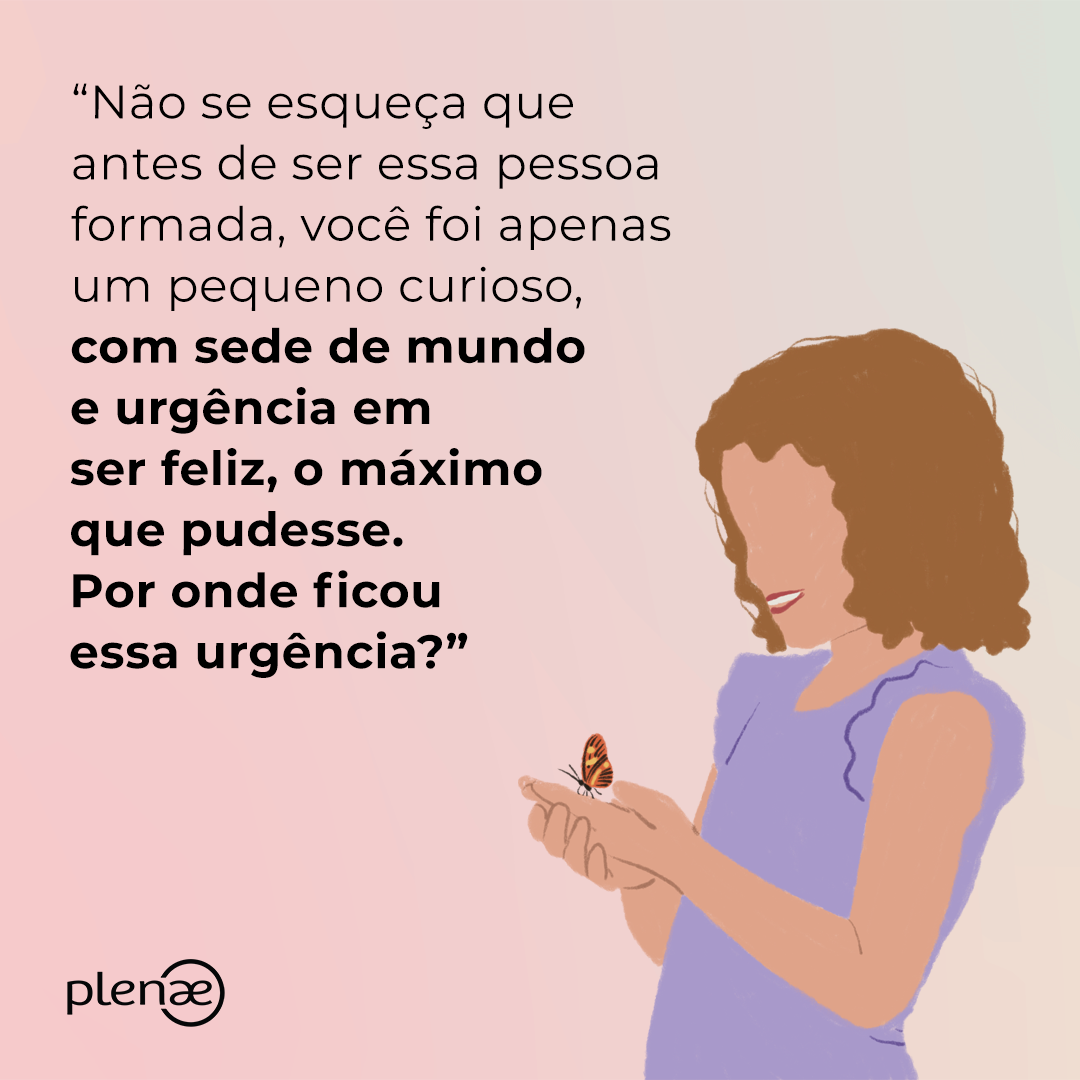
Conteúdos
Vale o mergulho Crônicas Plenae Começe Hoje Plenae Indica Entrevistas Parcerias Drops Aprova EventosGrau Plenae
Para empresas