Para Inspirar
A sétima temporada do Podcast Plenae está no ar! Confira a história da ex-expatriada Maha Mamo. Aperte o play e inspire-se!

Leia a transcrição completa do episódio abaixo:
[trilha sonora]
Maha Mamo: Você sabe o que é um apátrida? Uma pessoa consegue a sua nacionalidade de duas maneiras: pelo lugar onde nasceu ou pela origem dos seus pais. Se você nasceu no Brasil, é brasileiro, não importa de onde os seus pais vieram. Mas, na maioria dos países da Europa, não é bem assim. Quem nasce na Itália, só consegue um passaporte caso os pais sejam italianos. Milhões de pessoas pelo mundo não têm nenhuma dessas escolhas. Eu sou uma delas. Eu sou Maha Mamo. Eu passei quase a minha vida inteira como alguém sem pátria.
[trilha sonora]
Geyze Diniz: De origem libanesa, Maha Mamo é uma ativista que passou a maior parte de sua vida sem nenhum tipo de documento. Sem identidade, ela não teve acesso a direitos básicos como educação, saúde e liberdade de ir e vir. Maha era apátrida, um indivíduo que não é titular de qualquer nacionalidade. Sem encontrar uma solução no Líbano, Maha Mamo buscou ajuda em todas as embaixadas existentes em Beirute, até ser aceita pela brasileira.
Neste processo, ela descobriu que, como ela, 10 milhões de pessoas no mundo são apátridas, e transformou o seu problema em uma causa de vida. Conheça a história emocionante de Maha Mamo. Ouça, no final do episódio, as reflexões do especialista em desenvolvimento humano Marc Kirst , para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geyze Diniz e esse é o podcast Plenae, ouça e reconecte-se.
[trilha sonora]
Maha Mamo: Eu nasci no dia extra de um ano bissexto. No dia 29 de fevereiro. Dizem que é sinal de uma vida fora do padrão. No meu caso, é verdade. Eu morei na minha terra natal, o Líbano, por 26 anos, sem nenhum documento. No Líbano, você só recebe a nacionalidade se o seu pai for libanês. Meus pais são sírios. A minha mãe é muçulmana e meu pai, cristão. Na Síria, o casamento inter-religioso é ilegal. Por isso, eles se mudaram pro Líbano. Tentaram se casar lá, mas só conseguiram na igreja, não no cartório.
Sem um registro de casamento, eles não puderam passar a nacionalidade deles pra minha irmã, pro meu irmão e nem pra mim. Nós nascemos apátridas. Nós não tínhamos passaporte, RG, CPF ou mesmo certidão de nascimento. Nenhum documento que prova que a gente existia.
O primeiro problema da minha vida foi estudar. Quando a minha mãe começou a procurar escolas, a primeira pergunta foi: cadê os documentos? Como não tinha, mandavam a gente embora. Minha mãe implorou pros diretores, pediu muito favor, até um colégio armênio aceitar a nossa matrícula.
Conforme eu fui crescendo, ficou cada vez mais claro que a falta dos documentos era um problema sério. Por exemplo, eu tenho urticária, uma alergia severa. Quando me ataca, preciso correr pro hospital. Cada vez que eu ia, precisava levar comigo a minha melhor amiga, Nicole, pra ser atendida com o documento dela. Meu maior medo era andar na rua e ser parada pela polícia. Sempre que eu via uma blitz, corria pro outro lado, porque eu não tinha um documento pra apresentar.
A ficha caiu mesmo quando eu comecei a pensar no que eu queria estudar na universidade. Naquela idade em que você projeta o futuro e faz planos, eu percebi que os meus sonhos eram impossíveis de serem realizados. Eu queria fazer medicina, tinha boas notas, mas não fui aceita por nenhuma universidade. Em uma universidade de Beirute, a recepcionista, simplesmente, jogou os papéis na minha cara e disse: “Volta quando você tiver seus documentos. Porque se você é libanesa você consegue estudar, se você é síria você consegue estudar, quem é você?”.
E aí, eu fiz uma lista com todas as universidades do Líbano e procurei uma por uma, até que uma me aceitou. Mas eles não tinham curso de medicina. Aí eu tive que estudar Sistemas de Informação, me formei e fiz até um mestrado, um MBA. Mas e depois? Como eu poderia me casar? Como vou conseguir um emprego? Como que eu teria coragem de ter filhos na mesma situação que eu? Mesmo com muitas barreiras, eu tinha que continuar tentando.
[trilha sonora]
Como no Líbano não encontrei esperança, comecei a sonhar com outros países. Escrevi a minha história e mandei pra todas as embaixadas que existiam no Líbano. Eu assinava as mensagens com o meu nome e, como sobrenome, escrevia “Someone Unkown”, ou seja, “Alguém Desconhecido”.
[trilha sonora]
Eu passei dez anos esperando a resposta de algum país. Até que, em 2014, o Brasil aceitou. Me aceitou e aceitou meus irmãos. Não porque nós éramos apátridas, mas porque o país tinha aberto as portas para os refugiados sírios.
O Brasil, para nós, era uma opção muito distante. Eu não sabia nada sobre o país, exceto o carnaval, o futebol e, infelizmente, a violência. Mas pra onde eu iria? Onde moraria? Como ia viver? Comecei uma pesquisa nas redes sociais. Conheci uma família de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que aceitou me acolher e acolher meus irmãos.
Eu deixei pra trás meu pai, minha mãe, meus amigos, minha vida toda no Líbano. Eu decidi embarcar para o desconhecido, pro Brasil.
[trilha sonora]
Apesar do medo, tinha a excitação da novidade. Nos primeiros dias, tirei fotos, registrei as minhas digitais e assinei muitos papéis. Ganhei CPF, carteira de trabalho e um protocolo de solicitação de refúgio.
O segundo passo foi buscar trabalho. Quando eu cheguei, eu falava quatro línguas: inglês, árabe, francês e armênio. Tinha um mestrado, mas o único trabalho que consegui foi entregar panfletos na rua. Mesmo assim, eu, meu irmão, a gente estava feliz por trabalhar legalmente pela primeira vez na vida.
Comecei a aprender português, porque eu precisava me integrar na sociedade. Eu precisava entender a cultura, a maneira de pensar das pessoas, o comportamento delas. Alguns tempo depois, consegui um emprego melhor, como gerente de operação em exportação e importação de gado. Mas não era um emprego bem remunerado. No Líbano também era assim. Eu ganhava menos do que deveria, por causa do meu status.
Até então, eu achava que só eu, meu irmão e minha irmã estávamos nessa situação. Só que eu comecei a pesquisar sobre o assunto e encontrei uma campanha da Acnur - Agência da ONU para refugiados, eu chamo dos apátridas também, chamada “I belong”, ou “eu pertenço” em português. Fiquei em choque quando descobri que existem 10 milhões de pessoas no mundo inteiro sem pátria.
Eu morri de medo quando descobri que o Brasil não tinha lei para essas pessoas. Não tinha nem sequer a definição da palavra apátrida.
[trilha sonora]
Mas meus irmãos e eu tínhamos esperança que um dia a lei mudaria no Brasil. Em maio de 2016, fomos aprovados como refugiados. Conseguimos nosso primeiro sonho. Eu consegui obter o meu primeiro Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, que é um certificado de residência para estrangeiros no Brasil. Que tinha a minha foto, o meu nome e o direito de permanecer no país por 5 anos, legalmente.
[trilha sonora]
Mas a vida tem caminhos tortuosos. Exatamente um mês depois dessa felicidade toda, eu perdi o meu irmão, eu perdi Eddy.
[trilha sonora]
Meu único irmão foi assassinado por adolescentes drogados, numa tentativa de assalto. Meu irmão morreu como um apátrida. Pelo menos, ele teve uma certidão de óbito. Porque, normalmente, pessoas sem pátria vivem e morrem como uma sombra, como alguém que nunca existiu.
[trilha sonora]
A morte do meu irmão virou uma chave na minha cabeça. Quando ele faleceu, entendi que a vida é muito curta e nós não temos garantia em nada. Eu não queria morrer sem a minha nacionalidade. Comecei a me questionar: Quem sou eu como ser humano? Onde eu pertenço? Pra que eu realmente quero essa liberdade de ir e vir, de fazer o que eu quiser? Entrei num looping de medo, de incerteza e questionamentos. Caí bem no fundo do poço.
[trilha sonora]
Aí eu entendi. Eu entendi que no tempo de vida que a gente tem, precisa lutar por alguma coisa. Eu comecei a elevar a minha voz e compartilhar a minha história com todo mundo. Muito mais do que eu fazia. Comecei a dar entrevistas, fazer palestras pra qualquer um que quisesse ouvir. Onde me dão espaço pra compartilhar a minha história, eu vou, na imprensa, em escolas, nos salões da ONU, no parlamento de países. Conto que a apatridia é um problema de direitos humanos. Eu luto pelo meu irmão, pela minha irmã, por 10 milhões de pessoas que têm o direito de existir.
[trilha sonora]
O Brasil me deu isso. No dia 4 de outubro de 2018 eu renasci. Aos 30 anos, eu e minha irmã ganhamos a nacionalidade brasileira. Fomos as primeiras na história do Brasil a ser reconhecidas como apátridas pelo Estado e a conquistar a nacionalidade. Nossos registros mostram os números 001 e 002 . Depois da gente, mais pessoas foram reconhecidas como apátridas no país. E o Brasil virou exemplo pro mundo inteiro.
Eu tenho consciência que com meu trabalho eu não vou conseguir dar nacionalidade para 10 milhões de pessoas. Mas se eu mudar a vida de uma pessoa, duas pessoas, pra mim já é suficiente, a minha missão está cumprida. Não estou falando somente sobre os meus companheiros de luta. Eu espero que as minhas palavras alcancem todos aqueles que sonham com uma vida mais justa e, por algum motivo, foram privadas desse sonho. Eu quero que minhas palavras ajudem os outros a não perder a esperança.
Se receber um não, que aprendam, como eu fiz diversas vezes, a buscar outras portas. Porque todo mundo tem o direito de pertencer. Hoje eu tenho orgulho de anunciar que eu sou brasileira. Hoje, eu pertenço.
[trilha sonora]
Marc Kirst: Tivemos o privilégio de ser tocados, provocados e inspirados por uma história incomum para a maioria, mas de muitas formas, presente em todos nós. A luta de Maha Mamo por encontrar seu próprio lugar no mundo, seu papel único e intransferível, nos convida a questionar o contexto e as prioridades da nossa própria caminhada.
O desafio de ter que provar e formalizar sua própria existência, pode parecer distante pra muitos, mas faz parte das regras da mesma sociedade moderna que diariamente julga o valor e a importância de cada um de nós, por outros tipos de documento. Como as marcas vestidas, as instituições frequentadas e os bens materiais acumulados. Para além destes rótulos sociais, que nos representam na superfície, com que frequência somos acolhidos por quem somos em essência?
Com seu exemplo, Maha Mamo desperta a coragem necessária para lutar pelo nosso próprio lugar autêntico no mundo, onde nos sintamos parte de algo maior, apesar de qualquer julgamento externo. Fortalecendo os próprios valores e convicções, com persistência e resiliência, acabamos de ouvir a história de alguém que não só conquistou seu sonho, mas como consequência, facilitou o caminho de inúmeras outras pessoas passando pela mesma dificuldade. E você? Qual luta pessoal tem o potencial de transbordar para todos ao seu redor?
[trilha sonora]
Geyze Diniz: Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenae.com e em nosso perfil no Instagram @portalplenae.
[trilha sonora]
Brincar não é coisa de criança, apesar do fato delas fazerem isso com maestria.

Brincar não é coisa de criança, apesar do fato delas fazerem isso com maestria. E um dos grandes erros que cometemos quando crescemos, aliás, é abandonar o lado lúdico da vida e nos debruçarmos somente sobre as dificuldades da rotina.
Ainda que a ciência insista nos benefícios da diversão para a nossa saúde de forma geral, seguimos sufocados por uma lista de afazeres que não contempla essa atividade como algo legítimo e igualmente importante a todas as outras. Olhamos com certa arrogância para aqueles que ousam subverter essa lógica e taxamos como infantil o adulto mais sábio de todos: aquele que resiste às pressões internas e ainda brinca.
É nesse não-brincar que vemos a nossa criatividade e capacidade de solucionar problemas e enxergar sob outras ótimas morrerem. É no não-brincar que abrimos espaço na cama para o esgotamento físico e mental, para a seriedade que endurece nossos sorrisos, para um comportamento cada dia mais inflexível diante de qualquer imprevisto.
Abandonar a sua criança interior em um cantinho escuro e solitário, é assumir que a sua comunicação e até criação de laços mais sólidos e verdadeiros serão afetados. É como clicar em "concordo com os termos de uso" mesmo sabendo que a vida, subitamente, deixará de ser leve, confiável e eficiente.
Nesse mês das crianças, experimente ouvir o que a sua criança interna está tentando te dizer. Estique sua mão e deixe que ela a leve para a próxima brincadeira que ela inventou. Não se esqueça que antes de ser essa pessoa formada, você foi apenas um pequeno curioso, com sede de mundo e urgência em ser feliz, o máximo que pudesse. Por onde ficou essa urgência?

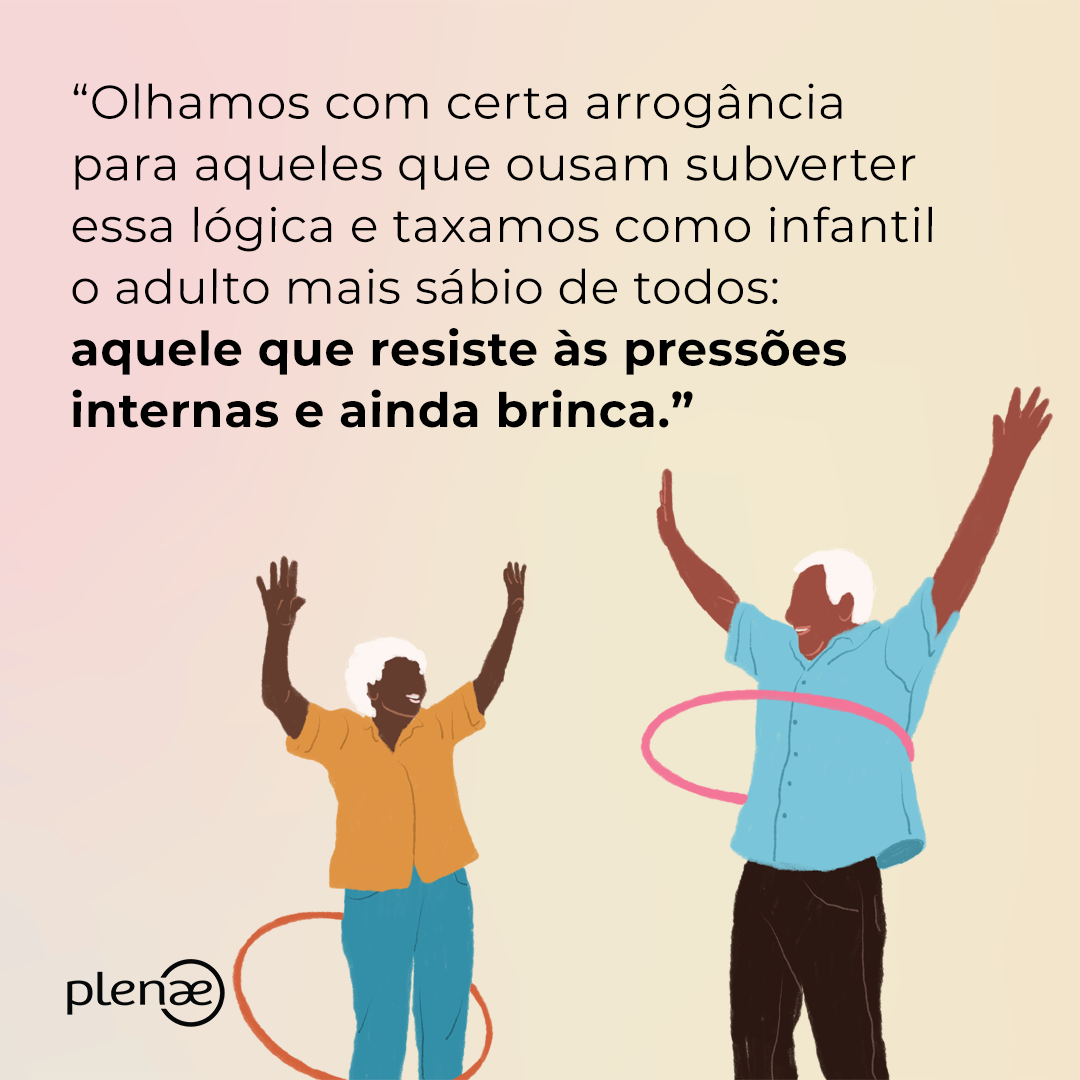
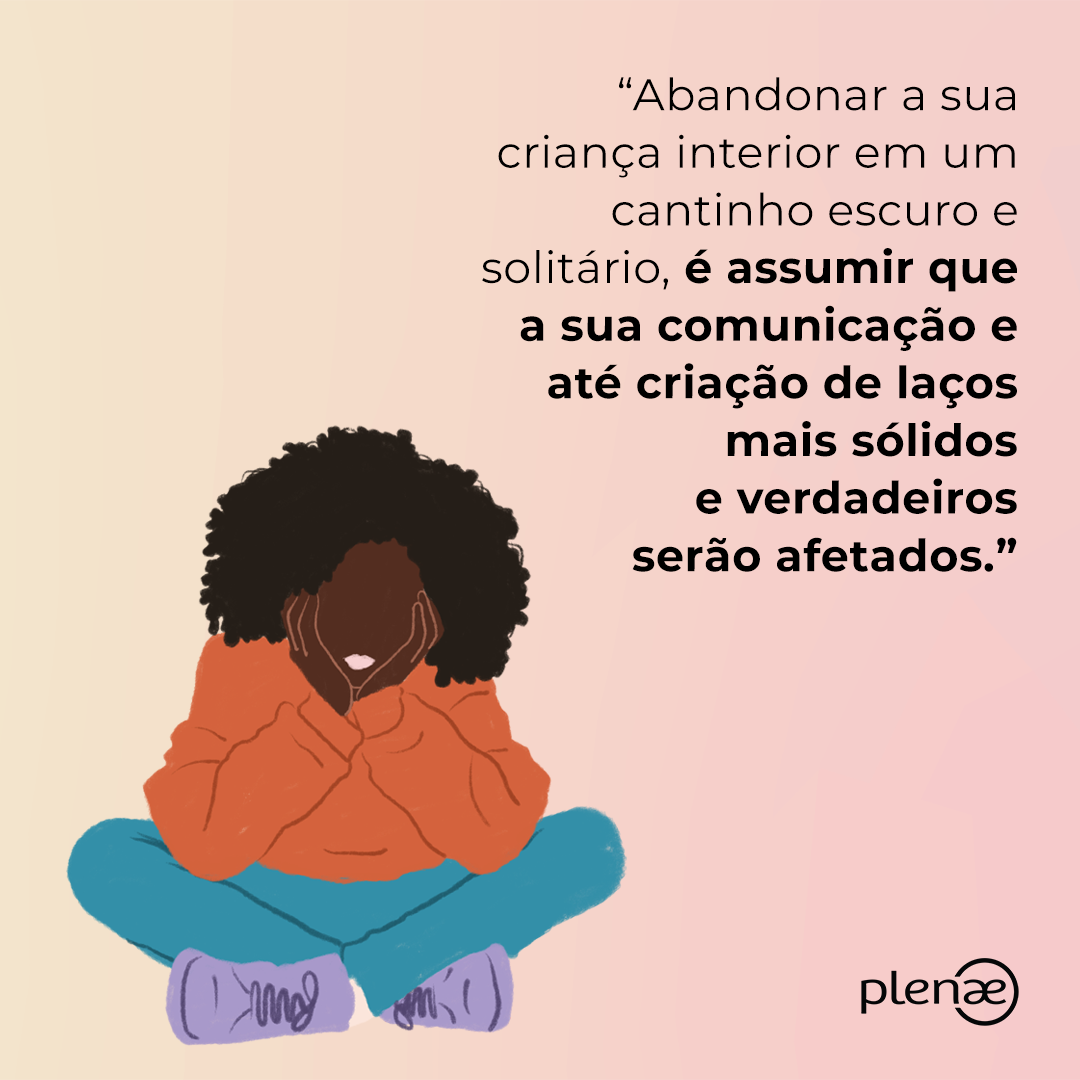
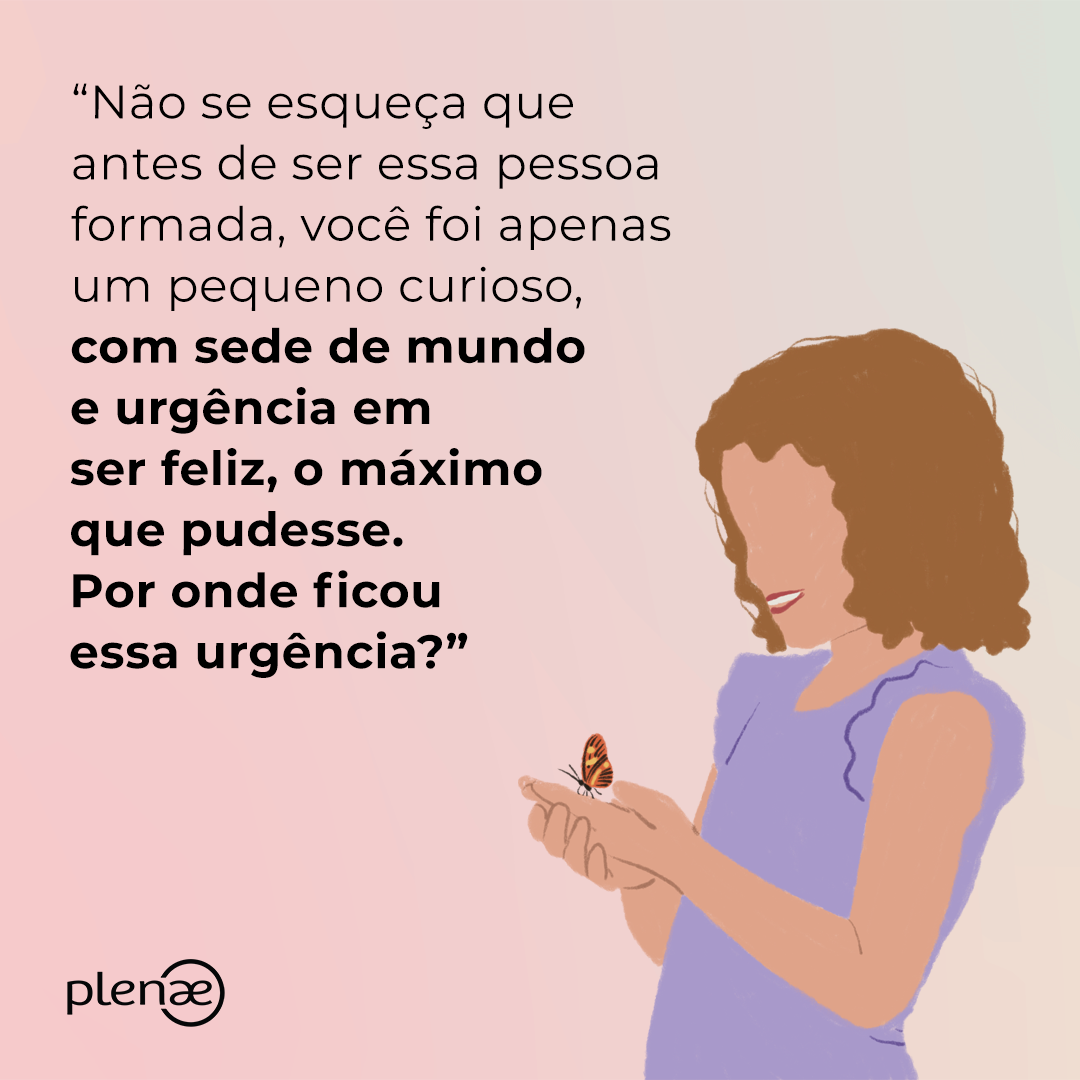
Conteúdos
Vale o mergulho Crônicas Plenae Começe Hoje Plenae Indica Entrevistas Parcerias Drops Aprova EventosGrau Plenae
Para empresas