Para Inspirar
Conhecido como o “amor mais forte do mundo”, a ciência explica como não é preciso gerar para que esse sentimento seja aflorado


Chegamos ao final da décima segunda temporada e ela não poderia fechar de forma mais emocionante: com o relato de maternidade de Fabiana Fabris. Ela, que adotou 5 filhos - sendo 4 irmãos -, narra em seu episódio um pouco de como foram as suas tentativas de gestar e como ela entendeu que, para ser mãe, havia algo muito maior e mais profundo do que conseguir engravidar.
Foi quando Fabris retomou um sonho antigo, que era o de adotar crianças com idade até mais avançada. O que ela não sabia é que essa jornada seria repleta de aprendizados, sendo que o principal deles foi a chave do sucesso: entender que o amor materno é, na realidade, uma construção. E é sobre isso que falaremos hoje!
 A ciência das mães
A ciência das mãesToda mãe é um pouco cientista, como já disse o ditado. Mas, em abril, às vésperas do Dia das Mães, fomos entender um pouco mais sobre essa relação entre ciência e maternidade. Chegamos a algumas curiosidades sobre o tema. São elas:
O simples toque de uma mãe, onde há um investimento de libido - essa energia que habita em todos nós - é capaz de acelerar processos de cura, diminuir dores, entre outros benefícios comprovados para a saúde.
A saliva materna também é capaz de curar e, até mesmo uma chupeta limpada pela boca de uma mãe já oferece esse benefício
A mãe é a porta de entrada para a linguagem, se tratando de bebês muito pequenos.
A figura materna é tão onipresente que há indícios de que os homens da caverna já possuíam sua própria forma de chamar pelas suas.
Mães que continuam trabalhando apresentam menos chance de ter depressão, mais energia e mais mobilidade.
Para as mães que gestam, o processo da gravidez envolve, dentre outras coisas, transmitir nutrientes e células pela placenta.
Além dessas curiosidades, sabemos também que há um processo hormonal complexo e muito benéfico que está intimamente ligado à maternidade. Estamos falando da liberação da ocitocina que, como te contamos aqui, é um dos hormônios ligados ao bem-estar.
Produzido pela glândula da hipófise, também localizada no cérebro, sua principal função é promover a saída de leite das glândulas mamárias, ou seja, muito importante para as mães que estão amamentando. Porém, no cérebro ela também tem apresenta funções que estão relacionadas ao cuidado, a sensação de amor fraternal, materno, paterno.
Estudos comprovam, aliás, que animais com mais ocitocina tendem a ter mais cuidado com filhotes e são mais sociáveis. Um “atalho” para liberar mais ocitocina é, por exemplo, segurar um bebê, ter um animal de estimação ou até mesmo ter uma planta - esse em menor grau. Tudo que estimule a sensação de cuidado trará junto a sensação de felicidade, aquela que sentimos quando estamos perto de um filhote.
 A construção do amor
A construção do amorEsses foram alguns dos muitos exemplos possíveis do que a ciência já estudou em relação ao amor materno, que é uma das manifestações mais antigas, potentes e analisadas do mundo. Mas, é importante lembrar que o amor materno é uma construção. Não é imediato e nem inerente a nenhum processo automático.
Todos os dias, mães se sentem confusas e pressionadas a sentirem esse mergulho intenso e prometido quando, na verdade, ainda não o sentem. E essa culpa materna, como te contamos aqui, vai se acumulando e se tornando nociva para as duas partes desse relacionamento: mãe e filhos.
Esse assunto é tão importante que dedicamos um Tema da Vez inteiro só para pensarmos na maternidade de forma mais ampla e livre de tabus ou preconceitos. A começar pelo famigerado instinto materno, refutado por diversos estudos que vão da psicanálise à antropologia, da sociobiologia à etologia.
Esse desejo pela maternidade, que muitas vezes é legítimo, outras vezes é influenciado em grande medida pela nossa cultura, estruturas políticas e econômicas. As mulheres têm filhos por várias razões, incluindo o desejo de satisfazer pais, maridos e amigos, pelo medo da solidão e até mesmo como investimento na velhice, o que está longe de ser um impulso de procriar.
Atrelar a maternidade a um suposto instinto biológico contribui para a construção da imagem da mãe que dá conta de tudo, pois seria “natural para ela”. Essa idealização gera uma enorme pressão, e é por isso que mulheres buscam quebrar o silêncio na busca de “desmascarar a maternidade”. É o caso de Katherine Wintsch em seu Ted Talk, onde ela revela que em um estudo com mais de 5 mil mães de mais de 17 países, todas, sem exceção, sofrem por não atingirem esse ideal.
 Adotando e aprendendo
Adotando e aprendendoAgora que desmistificamos essa ideia de que o instinto materno é real e que uma mãe nunca cansa e sempre ama o seu filho é lenda, podemos pensar também nas mães adotivas, que têm frequentemente o seu amor pelos filhos colocados em xeque por não terem gerado suas crias. Parece absurdo, afinal, adotar exige ainda mais intencionalidade do que engravidar, portanto, parte-se do princípio que essa mãe que adotou quis muito ser mãe.
Podemos começar por ela novamente: a ciência. Um estudo comprovou que o estímulo do cuidado de uma mãe adotiva libera a ocitocina que explicamos anteriormente tanto quanto a maternidade biológica. Essa ocitocina vai educando e explicando para o cérebro dessa mãe que ela agora é responsável por aquela vida, portanto, o senso de obrigação é o mesmo.
Essa modificação cerebral e esse hormônio se dão por meio de sorrisos, afetos positivos, elogios, palavras positivas e encorajamento ativo. Os testes demonstraram que, nos primeiros meses da adoção, a empatia dessa mãe está relacionada à uma imagem de crianças em geral.
Mas, com o decorrer do tempo, a produção de ocitocina é maior quando essa mesma mãe é exposta a imagens específicas do seu filho, o que demonstra como esse vínculo foi fortalecido ainda mais. O cérebro dessa mulher passa a se comportar de maneira bem próxima ao de uma mãe que gerou.
Para que a ciência seja colocada em prática, é preciso, claro, convivência. Por isso mesmo, a lei brasileira garante que pais que adotaram têm direito à licença parental, justamente porque entende-se que o trabalho é o mesmo ou até maior, pois exige essa conexão com o universo prévio dessa criança, que precisa se sentir segura e parte dessa família. Incluí-la em atividades, como demonstra essa pesquisa, é um caminho eficaz para isso, tipo jantares ou encontro com outros familiares.
Para Fernanda Fabris, personagem do nosso Podcast, o caminho encontrado foi entender primeiramente que essas crianças não precisam ser salvas e que você não está fazendo nenhum favor ao adotá-las, mas sim, que elas precisam ser amadas.
Em segundo lugar, entender que essa adaptação não tem que vir só da parte dessa criança, que ela precisa ser “fácil” para as coisas darem certo. Até mesmo porque, muitas vezes, essa criança foi machucada e naturalmente possui menos mecanismos para lidar com seus sentimentos do que um adulto. Quem faz dar certo, como diz Fernanda, é a mãe e o pai, não o filho.
Em seus estudos, Fernanda se aprofundou no comportamento de cada idade, nos estudos de neurologia e na psicologia. “Eu aprendi que a criança que sofreu acolhimento tem a região da amígdala cerebral mais estimulada. A amígdala é a estrutura ligada às emoções. Por outro lado, o córtex cerebral delas, que é o sistema que representa a razão, é menor. Toda vez que essas crianças se veem numa situação de perigo, elas reagem. E não adianta bater de frente. Não adianta gritar, que é justamente o que nós, pais, fazemos. A ciência mostra que, quando a gente vai construindo o vínculo afetivo, a pessoa passa por um processo de neuroplasticidade. Ela começa a pensar e agir de forma consciente”, conta ela. 
Com a psicologia, ela entendeu que a rejeição era um mecanismo de defesa inconsciente das crianças, que pensam “Se eu gostar dela e ela me levar de volta para o abrigo, eu vou sofrer. Então, eu rejeito ela, assim ela não gosta de mim, eu também não gosto dela e eu não sofro”.
Foi preciso ainda que ela mergulhasse dentro de si, em um processo de autoconhecimento profundo, para entender que alguns de seus desconfortos diziam respeito a padrões dela mesmo, e de mais ninguém. De dores da sua própria infância, projetadas ali, na infância de seus filhos.
Por fim, Fernanda aprendeu ainda a respeitar e valorizar o passado prévio dessa criança, a importância da sua família biológica e ensiná-los a continuar escrevendo a sua história a partir dali. “A adoção não vem com uma borracha mágica. A gente tem que ter muito respeito por essa família, para que os nossos filhos se aceitem e se livrem da culpa que eles carregam. Quando a gente respeita os pais biológicos, a gente ensina as crianças que elas têm que se respeitar, que elas são dignas de amor e de afeto”, conta.
“Todos os dias eu vejo famílias que entram no processo adotivo com a intenção de fazer uma caridade. O problema é que, com essa mentalidade, esses adultos vão esperar um senso de gratidão em troca. E a criança e o adolescente não tem nem maturidade cerebral para ser grato. É um erro pensar que as crianças precisam ser salvas. Elas só precisam ter pais e mães. Elas precisam de amor”, conclui.
Histórias de amor familiares são escritas à várias mãos. Liberte-se da ideia de que elas se dão de maneira automática e comece a construir a sua própria, da maneira como ela funciona para você.
Para Inspirar
Apesar de ser um velho conhecido, há ainda muitas dúvidas e tabus em torno do assunto. Celebrando o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, conheça mais sobre!
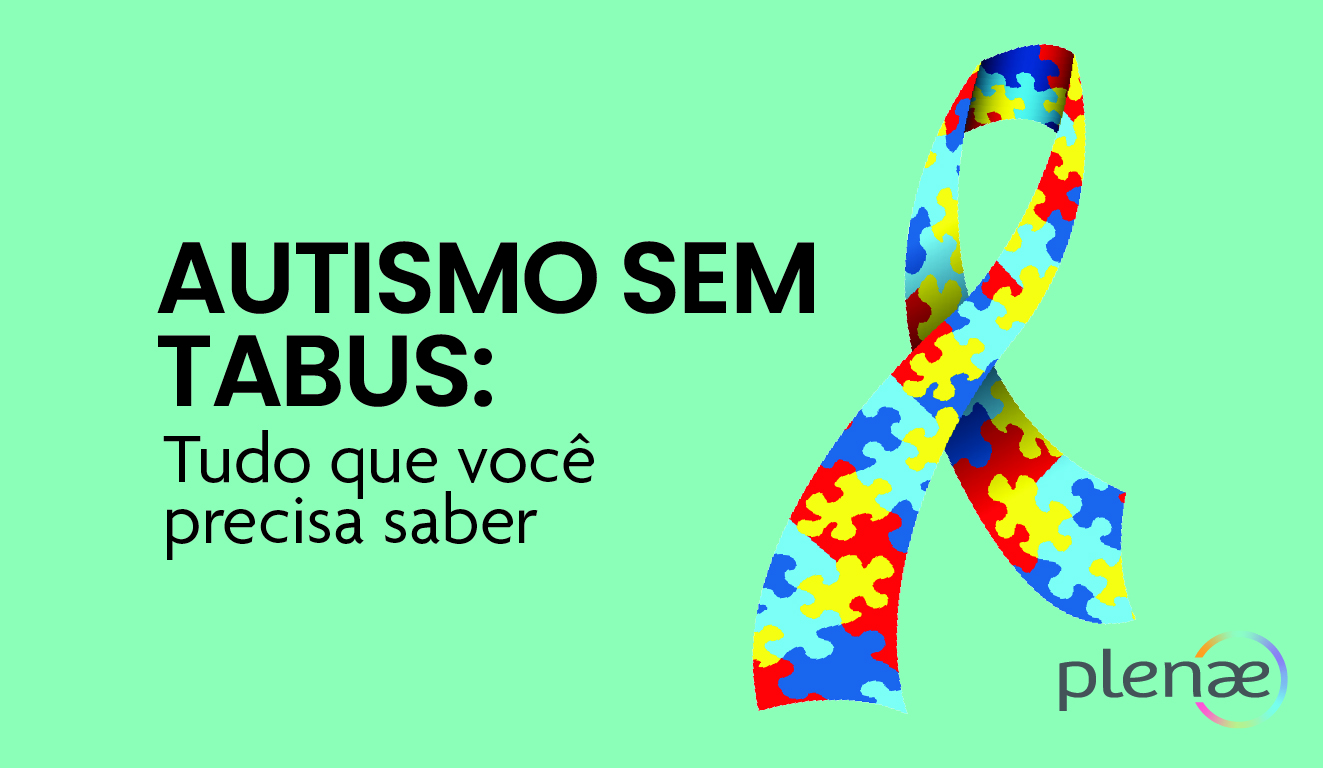

Autismo: você certamente já ouviu falar nesse nome. O Transtorno de Espectro Autista (TEA) é uma condição neurológica reconhecida pela DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ou Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais em tradução), uma espécie de “bíblia” que guia tanto psiquiatras como neurologistas, psicólogos e outros especialistas.
Trata-se de uma condição de saúde que pode ser apresentada em três níveis de suporte diferentes. O autismo afeta a capacidade de comunicação social (socialização e comunicação verbal e não verbal) e comportamento (interesse restrito ou hiperfoco e movimentos repetitivos) do indivíduo, e começa a se manifestar entre 12 e 24 meses.
Porém, justamente por conta de seus níveis, também conhecidos como “espectros”, há muitas pessoas que vivem toda uma vida sem saber que são autistas. “Há autistas diferentes que apresentam os sintomas de autismo de formas diferentes, que têm experiências de vida e apresentações clínicas diferentes”, explica Rachel Monteiro Lorencini, psiquiatra em formação pelo CBI of Miami, com foco em neurodiversidade e também em psiquiatria e saúde mental da infância e adolescência na mesma instituição.
Desde a última versão do DSM, o DSM-5, diminui-se o leque do que era considerado autismo, como era o caso da Síndrome de Asperger - condição vivida por Rafael Mantesso, personagem da quarta temporada do Podcast Plenae. Até o DSM 4, o diagnóstico do autismo poderia receber o nome de Transtorno Autista, Síndrome de Asperger, Transtorno desintegrativo infantil ou Transtorno Invasivo do Desenvolvimento.
Agora, essas quatro nomenclaturas recebem um único nome: Transtorno do Espectro do Autismo. O que muda na prática é que, claro, os autistas são diferentes e demandam suportes diferentes. “O próprio nome discriminado no DSM-6, ‘nível de suporte’ já informa do que se trata: o quanto que aquela pessoa que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista precisa de suporte profissional ou de uma pessoa, de um conhecido, amigo, alguns autistas encontram esse suporte no cônjuge, familiares, etc”, diz Rachel.
Este artigo explica o que mudou realmente da DSM-4 para a DSM-5 no que diz respeito ao autismo. Vale lembrar que esse manual é feito por médicos do mundo inteiro e que ele não é lançado todo ano: o último foi feito em 2013.
Os níveis de suporte
Eles se dão em duas categorias: interação/comunicação social e comportamento restritivo/repetitivo. Os níveis de suporte vão do 1 ao 3, sendo que o 1 demanda pouco suporte e o 3 muito. O nível 2 é um nível intermediário. Veja a lista completa neste artigo do Portal de Medicina Brasileiro.
“Os níveis de suporte não são fixos, estáticos, então pessoas autistas podem migrar e evoluir, pode receber assistência ou um ambiente mais favorável e caminhar nesses níveis para um suporte menor. Mas da mesma forma, em ambientes e situações adversas, a pessoa autista pode migrar para níveis de suporte maior”, explica a especialista.
“Em relação às crianças, nem sempre é fácil definir os níveis de suporte, principalmente nessa primeiríssima infância até os 3 anos, crianças muito pequenas. Às vezes a gente espera um pouco mais pra definir isso, ou questões como se ela é uma criança verbal ou não verbal, se tem algum prejuízo ou não na fala e se tem algum déficit ou não intelectual”, diz.
Fugindo do estereótipo
Quando falamos em espectro autista, uma imagem de muita limitação e prejuízo vêm à nossa cabeça. Mas é importante lembrar que nem sempre é assim, e que como foi dito no começo desse artigo, há autistas que passam uma vida inteira sem o seu diagnóstico, constituem família, trabalham e apenas ignoram suas dificuldades específicas, como se fosse uma característica pessoal.
“Quando falamos em estereótipo, estamos falando de pessoas que não são produtivas. Infelizmente vivemos em uma sociedade que tem muito mais facilidade de identificar a dificuldade ou prejuízo do outro quando ele não consegue produzir academicamente, ambiente de trabalho ou num contexto familiar. Então está muito associado ao capacitismo, que diz respeito à capacidade dessa pessoa de produzir algo, de contribuir algo no trabalho ou no estudo”, diz Rachel.
Ou seja: se a pessoa apresenta um alto desempenho em algum fator de sua vida, ela ainda assim pode ser vítima de um tipo de sofrimento da ordem da comunicação social ou do comportamento, mas será negligenciada, pois entrega o que a sociedade espera dela.
“Uma pessoa que articula bem a fala não quer dizer necessariamente que ela tenha uma habilidade plenamente desenvolvida de socialização ou de interação social. Isso porque a interação envolve comportamentos de reciprocidade, de você perceber o outro, modular, modificar o seu comportamento de acordo com a resposta do outro. Essas pessoas tidas como ‘funcionais’ geralmente têm a capacidade de articular fala e de expor ideias, mas infelizmente estão em sofrimento, porque elas falham em se relacionar, não conseguem manter relações duradouras e muitas vezes não sabem o porquê”, explica.
O próprio termo funcional já é um adjetivo que pode ser ofensivo, porque parte-se do princípio de que todos temos que funcionar e operar na mesma frequência, quando na verdade, somos todos diferentes em nossas particularidades. Mas Rachel ainda nos lembra de evitar termos como déficit, falho, prejuízo e preferir, no lugar deles, típico/atípico, diverso, recíproco/não recíproco.
Outro ponto que pode fugir do estereótipo do que se pensa quando se fala em autismo são as pessoas que possuem um hiperfoco em um só assunto, com muita intensidade, e em temas que nem sempre correspondem ao interesse geral da população ou dos seus semelhantes, que possuem a mesma idade, por exemplo. Isso entra no ponto “interesses restritos e repetitivos”, também descrito no DSM-5.
“Eles também podem estar relacionados a comportamentos ritualizados, como é o caso do meu filho, que é autista. Ele tinha seletividade alimentar, que pode ser entendida em alguns pontos como cognitiva, porque ela diz respeito muitas vezes a um layout ou uma organização específica do prato. Teve uma época que ele escolhia o formato da pipoca que ia comer ou só comia frutas seguindo o mesmo ritual da escola dele. E se esse ritual fosse ferido, ele se desorganizava muito, ficava extremamente irritado”, conta a psiquiatra.
Caminhos de tratamento
Talvez o mais conhecido dos tratamentos seja o ABA, que vem do inglês “Applied Behavior Analysis” ou Análise do Comportamento Aplicada. Por essência, o ABA trabalha no reforço dos comportamentos positivos por meio da recompensa. Antigamente, o método utilizava-se também da punição, mas hoje, com o debate da humanização cada vez mais em foco, não há mais essa punição tão esclarecida.
“Mas não recompensar pode ser também um tipo de punição”, comenta Rachel. “Ele tem um viés mais comportamentalista e surgiu de uma perspectiva que tinha como meta o condicionamento mesmo, então pegar uma criança com um comportamento inadequado e através de um sistema de recompensas fazer com que essa criança tenha adequado. Há até gráficos onde as crianças são ‘medidas’ com base no objetivo que se espera. Ele já demonstrou resultados positivos, mas é bastante questionado”.
Por ser uma condição que pode se manifestar de múltiplas formas, há também, múltiplos caminhos. Rachel aponta a terapia de transtorno de processamento sensorial aplicada como um caminho novo e que tem sido revolucionário, além da terapia optométrica, ainda um pouco inacessível pela falta de profissionais capacitados, mas que promete bastante. Musicoterapia e equoterapia também são caminhos alternativos bastante promissores.
“A terapia vai sempre ser direcionada a partir daquilo que você observar que aquela criança pode ter ganhos, então o fonoaudiólogo pode trabalhar a parte de fala, linguagem, comunicação. Terapeuta ocupacional pode trabalhar a parte da vida diária, a parte de interação sensorial. O psicólogo pode trabalhar estratégias de regulação emocional. Sempre vai ser um trabalho interdisciplinar, tendo como meta o aprendizado e principalmente o conforto do paciente”, diz.
E por fim, a escola, local onde a criança passa grande parte do seu dia comprometida com aquele ecossistema que deve ser de inclusão, nunca de exclusão. Estar atento à instituição escolhida é dever primordial dos pais que possuem filhos com espectro autista. E para adultos que se enquadram nessa condição, buscar um ambiente de trabalho que acolha suas limitações. Acolhimento: essa deve ser a palavra de ordem quando o tema for autismo.
Conteúdos
Vale o mergulho Crônicas Plenae Começe Hoje Plenae Indica Entrevistas Parcerias Drops Aprova EventosGrau Plenae
Para empresas