Para Inspirar
Conheça a história dos caminhos que precedem um atleta olímpico e o levam até o pódio.

Leia a transcrição completa do episódio abaixo:
Caio Bonfim: Eu sou o tipo de pessoa que se alimenta da pressão. Quando eu jogava futebol já era assim. Quanto mais eu apanhava, quanto mais a torcida me xingava, melhor era o meu desempenho. É da minha personalidade. No segundo ano do Ensino Médio, eu escolhi trocar o futebol pela marcha atlética e aguentar os xingamentos na rua durante os treinos.
[trilha sonora]
Geyze Diniz: Os problemas de saúde na infância não impediram Caio Bonfim de se dedicar ao esporte. Filho de pai treinador e mãe atleta, Caio seguiu os passos da família e trouxe a medalha de prata para casa, uma conquista de todos e que deu luz a marcha atlética, esporte pouco conhecido no Brasil. Eu sou Geyze Diniz e esse é o Podcast Plenae. Ouça e reconecte-se.
[trilha sonora]
A minha mãe foi super bem, e meu pai incentivou ela a continuar na marcha. Ela começou a treinar, se dedicar e foi oito vezes campeã brasileira, campeã ibero-americana e campeã sul-americana. A primeira brasileira a ganhar uma medalha internacional na marcha atlética feminina.
[trilha sonora]
Eu não sei qual foi o dia em que eu aprendi a marchar. Aconteceu naturalmente. A nossa casa respirava o atletismo e marcha atlética. Eu cresci acompanhando a rotina de treinos da minha mãe e as viagens dela. Só que se dependesse da minha saúde na infância, eu não teria sido atleta. Com apenas 7 meses de vida, eu tive uma meningite. Meus pais nem sabiam se eu sairia vivo do hospital.
Com 1 ano e 2 meses, eu comecei a andar e em poucas semanas as minhas pernas entortaram. Os médicos não sabiam o porquê, mas as minhas pernas ficaram bem arqueadas pra fora, como se fosse um alicate. Eu fui operado e fiquei dois meses de gesso, a ideia era corrigir o problema daquele momento, mas os médicos alertaram que elas entortariam novamente à medida que eu crescesse. Só que, em mais um mistério que a medicina não explica, as minhas pernas nunca mais deram problema.
[trilha sonora]
Nada disso impediu que eu praticasse o esporte. Em casa, o que não faltava era incentivo. Eu lembro que uma vez meu pai chegou em casa num sábado e encontrou eu e meu irmão dormindo. Era tipo meio-dia e ele ficou indignado. Tirou a gente da cama e levou pro estádio onde ele dava treino de atletismo. Com 8 anos de idade, eu já corria de 6 a 8 quilômetros com meu pai.
Um mês depois, eu fui campeão brasileiro. Faz pouco tempo que eu perguntei pro meu pai porque que ele me incentivou a marchar e não a correr. E ele falou: “Quem é a criança que sabe fazer marcha atlética? Ninguém sabe, mas você e seu irmão sabiam. Então, se juntasse o preparo físico e a técnica de vocês com a bagagem que tinham, vocês largariam na frente”. Durante toda a infância, meu pai inscreveu eu e meu irmão em provas de marcha atlética. Mesmo sem treinar, a gente conhecia a técnica. Os resultados foram tão bons, que eu resolvi dar uma chance e trocar o esporte mais popular do país pro menos popular.
[trilha sonora]
Uma delas é ver que a marcha atlética é pouco reconhecida dentro do atletismo. Aquilo me incomodava. A cada medalha que eu ganhava, eu queria mostrar que o meu trabalho também tinha valor. Essas coisas foram me alimentando, criando a minha identidade e aumentando a minha vontade de fazer parte da marcha atlética.
Mas a pior parte era aguentar os xingamentos na rua. Toda vez que eu treinava na rua, passava um carro, buzinava e gritava alguma coisa. Já era difícil ser adolescente e lidar com a transformação do corpo e da cabeça. Era difícil sustentar a escolha de ser atleta, enquanto os meus amigos começavam a sair, curtir a vida. Mas aqueles xingamentos eram uma escala de agressão que eu não estava preparado.
[trilha sonora]
A marcha atlética, ela é uma competição de quem caminha mais rápido. Pra diferenciar da corrida, criaram duas regras. Uma é que o atleta não pode tirar os dois pés ao mesmo tempo do chão. A outra é que a perna precisa tá esticada no primeiro contato com o solo. Por causa disso, a marcha tem como característica um rebolado. Pra mim nunca foi estranho, porque era a profissão da minha mãe. Mas pra quem não tá acostumado, é esquisito.
Eu encontrava conforto nas pessoas que me apoiavam. Tinha gente que passava de carro e falava: “'Vamo' lá!”, “Bom treino!”. Mas acima de tudo eu tinha apoio em casa. Eu acho que, pra tudo na vida, o mais importante é ter suporte da família. Meus pais acreditavam em mim. Eles me davam confiança. Eu sempre fui elogiado como atleta pela minha parte mental. Mas na verdade a base dessa força eram os dois pilares que apanhavam junto comigo e absorviam algumas porradas que eu levava. Por causa da minha família, a caminhada não foi tão difícil.
[trilha sonora]
Nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, o negócio ficou mais sério. Eu terminei em quarto lugar. É uma colocação ingrata, porque você quaaase chega no pódio. Mas foi um resultado que me fez acreditar no meu trabalho. Os meus pais eram meus treinadores e muita gente acreditava que essa relação não daria certo. Ninguém me pressionava, mas eu fazia questão de continuar desse jeito, porque eu confiava muito no trabalho do meu pai.
Meu pai revelou cinco atletas olímpicos, e todos trocaram de treinador quando ficaram grandes. Eu não queria fazer a mesma coisa. E aquele quarto lugar no Rio mostrou que a nossa parceria era boa. E depois daquela Olimpíada eu brinco que o som da buzina mudou. Era sempre um “pã” e um xingamento, e hoje, é um “pan-pan”, 'vamo' lá campeão.”
[trilha sonora]
Em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, eu fiquei em 13º lugar. Esse resultado eu considerei um fracasso. A pandemia me interferiu muito, e eu percebi que algumas decisões erradas atrapalharam o meu rendimento. Mas foi ali que eu tive um papo comigo mesmo e decidi fazer algumas mudanças pras próximas Olimpíadas. Eu já sabia que eu era muito bom. Já treinava bem. Mas ainda tinha alguns pequenos detalhes que podiam fazer a diferença.
[trilha sonora]
A minha teoria é que todo mundo é uma estrelinha no céu. Existem alguns cometas Halleys brilhantes, que brilham mais do que tudo, tipo o Usain Bolt, Michael Phelps. A minha estrelinha tá lá brilhando e ela ia brilhar mesmo se eu não tivesse subido no pódio em Paris. Talvez o meu maior legado nem seja a medalha em si. O nosso projeto em Sobradinho, o Caso, hoje tem 35 marchadores. É uma garotada que pode marchar em paz na rua, sem sofrer a violência simplesmente por se dedicar à sua paixão.
[trilha sonora]
Geyze Diniz: Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenae.com e em nosso perfil no Instagram @portalplenae.
[trilha sonora]
Para Inspirar
Conversamos com uma psicóloga para entender como ter uma rede de apoio pode ser vantajoso e até necessário após uma perda
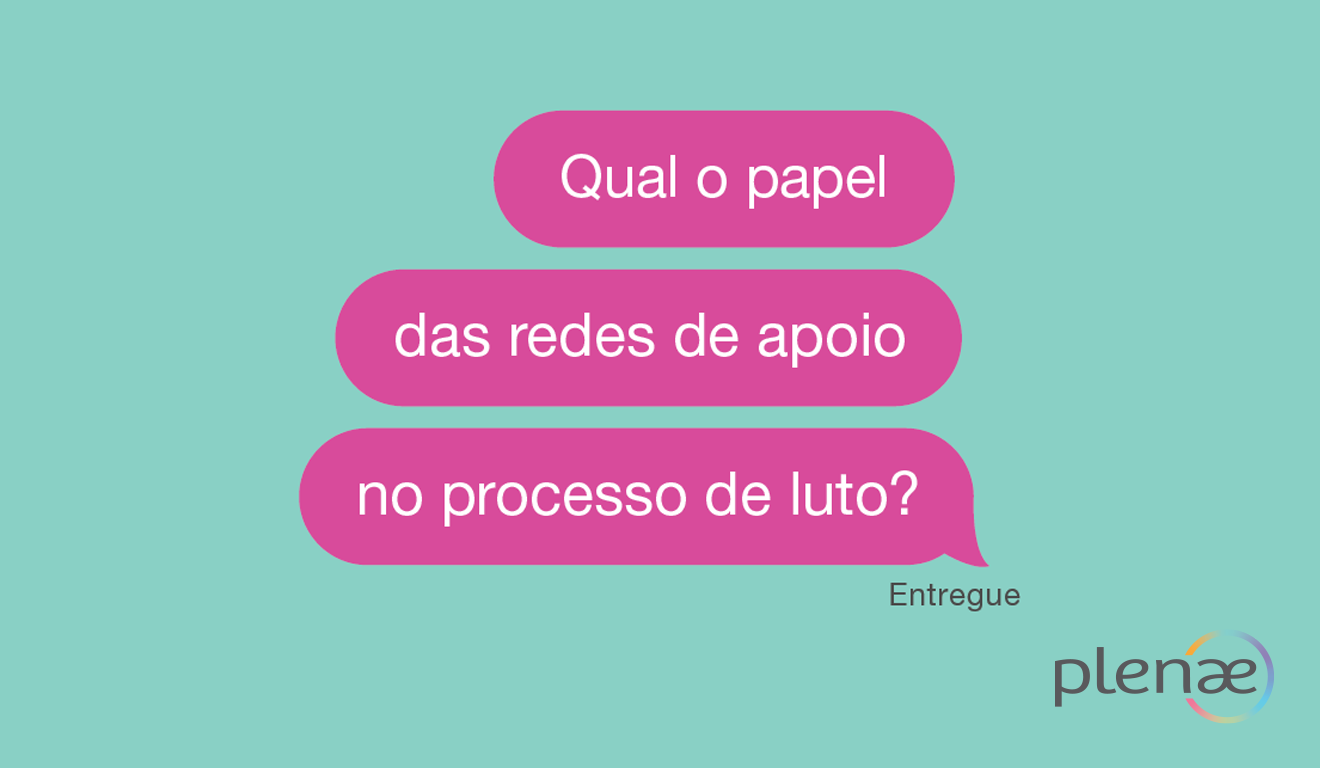

No primeiro episódio da terceira temporada do Podcast Plenae - Histórias Para Refletir, mergulhamos no relato profundo e cheio de emoção de Veruska Boechat, a viúva do jornalista Ricardo Boechat. Assim como todo o resto do país, Veruska foi pega de surpresa com a partida súbita e precoce dele que era não só o seu marido, mas também o seu melhor amigo e pai de suas duas filhas.
Como lidar então com uma ruptura tão brusca e violenta? Não há, é claro, uma única resposta para essa questão. Isso porque, como afirma Juliana Picoli Santiago, psicóloga clínica especializada em questões do luto, esse é um processo individual de cada sujeito e composto por diversas nuances e momentos.
 “A morte de um ente querido é a experiência mais desorganizadora que um ser humano pode viver no seu ciclo vital. Quando vivemos o luto, vivemos a queda do mundo presumido, ou seja, aquilo que dá pra gente o conforto e a segurança de que as coisas são de uma certa maneira aquilo que nos coloca no mundo e nos faz viver” explica ela.
“A morte de um ente querido é a experiência mais desorganizadora que um ser humano pode viver no seu ciclo vital. Quando vivemos o luto, vivemos a queda do mundo presumido, ou seja, aquilo que dá pra gente o conforto e a segurança de que as coisas são de uma certa maneira aquilo que nos coloca no mundo e nos faz viver” explica ela.
Veruska conheceu isso na prática. “As pessoas diziam pra eu ficar numa sala reservada [no enterro]. Pra quê? Era muito melhor receber o abraço de uma pessoa que saiu de casa para me dar carinho. E eu descobri que simples presença é mais importante do que qualquer coisa que se diga” conta ela, em seu episódio.
“As pessoas ficam aflitas em saber o que falar. Na verdade, quanto menos falar, melhor. Sou grata por ter conseguido filtrar o que me diziam. Eu não fiquei com raiva, nem guardei mágoa, mas as pessoas precisam aprender o que dizer no luto do outro. E também a se comportar. Enquanto teve gente que levou comida na minha casa, outros chegaram pedindo pra lanchar” conta. “Quando eu finalmente conseguia levantar, me arrumar e botar o pé pra fora, as pessoas vinham me dizer: ‘eu era fã dele, eu adorava ele’. E eu sei que é por amor, mas eu tava exausta de chorar e só queria poder falar: ‘Nossa, tá bonito o dia’”.
 Para Juliana, “é adequado que nós possamos falar sobre a pessoa que se foi, sobre sua história, não se deve evitá-la. É importante que possamos trazer ao nível da palavra aquilo que nos traz significado. E muitas vezes, dar significado a uma perda, está necessariamente ligado ao poder falar sobre o que aquela pessoa significava, trazia na sua experiência e no seu papel pra vida de quem ficou. Uma pessoa não é feita só do luto, ela é feita de história, estrutura”.
Para Juliana, “é adequado que nós possamos falar sobre a pessoa que se foi, sobre sua história, não se deve evitá-la. É importante que possamos trazer ao nível da palavra aquilo que nos traz significado. E muitas vezes, dar significado a uma perda, está necessariamente ligado ao poder falar sobre o que aquela pessoa significava, trazia na sua experiência e no seu papel pra vida de quem ficou. Uma pessoa não é feita só do luto, ela é feita de história, estrutura”.
Só que a dor do luto pode ser tão dolorosa quanto incapacitante, e por isso muitas vezes é confundida com a depressão. E, ao mesmo tempo que esse processo ocorre, a vida lá fora continua acontecendo. “Quem olha pro enlutado não vê que, além da tristeza, os boletos vão chegar normalmente. Você perde o seu marido num dia, no outro tem que ir ao cartório pegar a certidão de óbito. Numa hora em que você não quer conferir um papel que descreve um acidente que você nem conseguiu digerir ainda. Ninguém me disse isso” conta Veruska.
“Eu tinha tantas tarefas burocráticas pra resolver, que não conseguia mais dormir de ansiedade. Um dia, peguei um desses caderninhos tipo moleskine , de brinde, e comecei a anotar tudo que eu precisava fazer. Mesmo sem vontade, eu escolhia a tarefa mais idiota, tipo ‘trocar a titularidade da TV a cabo’ e riscava da lista. Resolver uma coisinha dessas me dava um pouquinho mais de força pra ir em frente” complementa.
Retomar a rotina aos poucos pode trazer a tão desejada sensação de normalidade que o enlutado busca. Mas “só no sentido do que a pessoa dá conta de fazer” como explica Juliana. E, para que isso seja possível, é preciso ter ajuda. “Minha primeira dica é: formar uma rede de apoio, ter pessoas próximas que possam cuidar até de suas necessidades mais básicas até que ela possa se integrar e começar entrar em contato consigo mesmo” explica a psicóloga.
 “Mesmo quando se recebe cuidados adequados, a experiência do luto é tão desorganizadora que vai se refletir no sono, nos hábitos alimentares e também na cognição e memória” diz Juliana. Com todos esses aspectos da vida prejudicados, a presença de outras figuras que possam estar em condições emocionais melhores é mais do que bem-vinda, como também necessária.
“Mesmo quando se recebe cuidados adequados, a experiência do luto é tão desorganizadora que vai se refletir no sono, nos hábitos alimentares e também na cognição e memória” diz Juliana. Com todos esses aspectos da vida prejudicados, a presença de outras figuras que possam estar em condições emocionais melhores é mais do que bem-vinda, como também necessária.
Há pessoas que buscam refúgio no trabalho. A própria Veruska conta que, depois de 14 anos sem trabalhar, voltar a ativa lhe deu forças e ajudou a ocupar a cabeça. Outros preferem encarar um longo processo terapêutico e buscar uma escuta capacitada. Há ainda os que erroneamente preferem ignorar os sentimentos, sem saber que o luto não acaba, mas sim passa a fazer parte dos seus dias.
Para todas essas alternativas, a rede de apoio é o que manterá a pessoa em condição de poder optar qual caminho seguir. “Tem uma filósofa chamada Hannah Arendt que escreveu ‘Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história’. E é justamente aí que mora a importância de falar sobre aquilo que me dói para alguém. Isso dá sentido para minha vida, quando uma pessoa me escuta, ela também me traz existência. Escutar alguém é trazer alguém pra minha existência” explica.
Portanto, falar sobre o assunto é de suma importância - ter alguém não só para ajudas cotidianas, mas para que seja esse ouvido que traz à luz a existência do enlutado como um indivíduo único e independente. “Pode ser que alguém não possa contar com essa rede de apoio, então existem alguns serviços como Centro de Valorização da Vida (CVV - Disque 188) e serviços que são disponibilizados pela rede pública como o Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental (CAISM). O importante é poder falar” conclui Juliana.
Conteúdos
Vale o mergulho Crônicas Plenae Começe Hoje Plenae Indica Entrevistas Parcerias Drops Aprova EventosGrau Plenae
Para empresas