Para Inspirar
Seja por necessidade ou por ideal, os negros têm empreendido em larga escala e com fins múltiplos. E a boa notícia é que têm obtido sucesso.


Num cenário de crise econômica, com o aumento de dados como o desemprego e a inflação, cada vez mais brasileiros estão optando por se inserir no mercado através do empreendedorismo. Seja por necessidade, oportunidade ou até mesmo pela tentação de ser seu próprio chefe, os números do ramo têm crescido bastante nos últimos anos, com mais de 3,9 milhões de microempreendedores individuais (MEI) formalizados em 2021.
Sendo maioria entre a população brasileira, com 54%, negros e negras não poderiam ficar de fora dessa tendência. Mesmo num contexto de desigualdade e preconceito, destaca-se uma nova tendência, o afroempreendedorismo: atividades com teor empreendedor realizadas por pessoas negras.
É o caso de Adriana Barbosa, representante do pilar Contexto na nona temporada do Podcast Plenae. Ela que organiza, aliás, um dos principais eventos nessa área: a Feira Preta, o brechó que se tornou o maior evento de cultura negra da América Latina, impulsionado principalmente pelos motivos citados anteriormente.
Embora exista o conceito e o movimento do Black Money, assim chamado para designar o dinheiro que circula justamente entre a população negra da sociedade, seja em comércio ou em serviços em geral, o afroempreendedorismo é caracterizado por ser criado por negros, mas não destinado a eles apenas. É direcionado a todos aqueles que quiserem consumi-lo, tendo um público alvo mais etnicamente abrangente.
Números
Por aqui, esse tipo de ação e fenômeno ainda tem características muito específicas, mesmo sendo um mercado que move mais de 1 trilhão de reais por ano. De acordo com a pesquisa Afroempreendedorismo Brasil, realizada pelo movimento Black Money, pela Inventivos e pela RS Stationz, mostrou que 40% dos adultos negros são empreendedores.
A mesma pesquisa revelou as principais áreas de foco desses empreendedores. São elas, na ordem: saúde e estética (14,3%); e-commerce (10,4%); varejo (10,4%); marketing e publicidade (8,4%); consultoria e treinamentos (8,3%); ensino e educação (7,3%); alimentação (7%); mídia e comunicação (6,7%); financeiro, jurídico e serviços relacionados (5,6%); eventos (5,4%).
A pesquisa Empreendedorismo Negro no Brasil, que foi realizada pela PretaHub, da Feira Preta, em parceria com a Plano CDE e o JP Morgan, mostra que a maioria dos empreendedores negros têm até o ensino médio completo, e as regiões sudeste e nordeste são as que concentram a maior parte deles, com 40% e 31% respectivamente. Centro-oeste, norte e sul entram na fila com 12%, 11% e 6%, nessa ordem.
E foi para dar visibilidade para os afroempreendedores que Aldren Flores criou a +AFRO, startup que impulsiona empreendedores negros e pensada para ser uma “lista amarela” dos afroempreendedores. Quem está na linha de frente são as mulheres, representando 61,5% dos negócios, principalmente nos ramos de self-care, comunicação e alimentação - dado que não surpreende, como já contamos neste artigo sobre empreendedorismo feminino.
Nessa toada surgiu o conceito de “afropaty”: mulheres negras que buscam mostrar um empoderamento mais focado a elas e não tanto às brancas, ocupando espaços, consumindo produtos luxuosos e propagando um estilo de vida muito relacionado às chamadas “patricinhas” que, no imaginário popular, ainda são majoritariamente brancas.
Inspiradas por cantoras internacionais como Rihanna (que, inclusive, lançou sua própria marca de cosméticos, a Fenty Beauty) e Beyoncé e brasileiras como Ludmilla e Iza, cada vez mais mulheres negras têm se aventurado no papel de ser uma digital influencer, uma it-girl que mostra às outras da mesma etnia que elas não estão proibidas de viver uma vida de luxo, conforto e até ostentação.
Isso, porém, passa longe de ser uma futilidade. É um negócio como qualquer outro, mas com essa característica de tentar mostrar uma realidade empoderadora para aquelas que, ao longo dos séculos, se restringiam a apenas sobreviver, tendo todo tipo de lazer negado. Segundo o Instituto Geledés, mulheres negras movimentam 704 bilhões de reais por ano no Brasil, mas a representatividade na publicidade, principalmente em produtos destinados às classes mais altas, ainda é muito baixa.
Tentando mudar essa realidade, surgiram expoentes como as cantoras Tasha e Tracie, a rapper MC Taya e a influencer Monique Berçot. E, se hoje existe uma conversa cada vez maior em torno da aceitação e valorização da autoestima da mulher negra, através da pele, cabelo e feições, é impossível deixar essas mulheres de fora.
Além de influencers, artistas e it-girls, existem também empresas afroempreendedoras que fabricam produtos de diferentes naturezas, ou não estão ligadas a produtos, mas sim, iniciativas. Alguns exemplos:
Malikafrica: da Bahia, a empresa é especializada na produção de acessórios, como colares e brincos, que buscam esse resgate às raízes.
Xeidiarte: a loja, que começou como uma página de ilustrações no Facebook, hoje vende produtos relacionados à moda como camisetas e vestidos, bem como acessórios diversos como quadros e agendas. Tem como valor a união entre negros e negras, bem como a valorização de marcas afroempreendedoras.
Fulelê: criada pela atriz Denise Aires, a marca é focada em produtos infantis como livros sensoriais e jogos. Busca, também, o contato com as raízes já desde cedo.
REAFRO: é a Rede Brasil Afroempreendedor, uma associação sem fins lucrativos que tem a missão de fortalecer o afroempreendedorismo por meio da educação empreendedora. O programa tem como propósito gerar apoio para que afroempreendedores e afroempreendedoras se desenvolvam, alcancem todo o potencial necessário e passem a ganhar ainda mais destaque no mercado, com iniciativas que contemplam mentorias e outros temas voltados ao Planejamento de Negócios.
Pretahub: é um Hub de criatividade, inventividade e tendências pretas. É o resultado de dezoito anos de atividades do Instituto Feira Preta no trabalho de mapeamento, capacitação técnica e criativa, aceleradora e incubadora do empreendedorismo negro no Brasil.
Clube da Preta: nasceu em 2015 e se trata de uma rede de produtores e prestadores de serviço afro-brasileiros. Funciona por meio de uma plataforma digital no modelo de assinatura que conecta clientes engajados em causas sociais a empreendedores de todo o país. A grande maioria dos produtos são feitos por nano e microempreendedores.
Coletivo Meninas Mahin: teve seu nascimento em 2016 com a primeira edição da FEIRA AFRO MENINAS MAHIN, que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo da mulher preta e contribuir no combate às desigualdades raciais.
Alfabantu: aplicativo voltado para o público infantil e que tem como proposta ajudar no processo de alfabetização das crianças através de jogos digitais além de enfatizar uma das contribuições africanas no falar brasileiro.
Conta Black: comunidade financeira que se propõe a ampliar o acesso a serviços financeiros a todas as pessoas sem burocracia e educação financeira, por meio de ferramentas simples, para que o crédito não se torne um inimigo.
Diáspora.Black: uma rede de anfitriões e viajantes interessados em vivenciar e valorizar a cultura negra. Para quem quer se conectar com a memória afro, fortalecer identidades e fomentar engajamento.
Dessa maneira, pretos e pretas estão cada vez mais buscando reverter um quadro de preconceito e discriminação que, infelizmente, ainda é a realidade da sociedade brasileira. O afroempreendedorismo veio para ficar e seguirá crescendo e realizando sonhos, provando que a reversão do quadro de um mercado focado em pessoas brancas para um mais inclusivo também pode ser gerar e circular muito dinheiro e ser extremamente lucrativo para todos os envolvidos.
Abrir a mala depois de uma viagem é se deparar com muito mais do que somente roupas para lavar e objetos para organizar.

Abrir a mala depois de uma viagem é se deparar com muito mais do que somente roupas para lavar e objetos para organizar. Se você olhar devagar, vai perceber que trouxe na bagagem um pouco do que é belo no mundo. Esse punhado de cultura de cada lugar que passamos e que, quando se junta dentro da gente, compõe aquilo que nos torna interessantes e abertos para o novo, a verdadeira riqueza que vale a pena acumular.
Ao olhar fotos antigas de viagens, nos deparamos com outras versões do nosso eu, que foram sendo modificadas a partir das diferentes experiências a que fomos submetidos. Mas quer experiência mais transformadora do que uma mochila nas costas e o mundo todo ali, diante de nós, a ser descoberto?
A manchinha que ficou nessa blusa que agora você coloca na máquina foi adquirida naquele almoço, experimentando aquele prato responsável por desbloquear mais um novo sabor nesse paladar que agora tem fome de mais. De mais temperos, cores, texturas e sabores que contam sobre aquele povo que gentilmente te chamou para entrar, sentar e partilhar do pão.
Viajar é muito mais do que um carimbo no passaporte ou uma foto nas redes sociais. É sobre se lançar aos mares que já foram inéditos para outros e agora o são para você, e nessa ancestralidade atenta, é possível se conectar com aqueles que desbravaram primeiro.
[Viajar] É sobre sentir saudade do que ficou para trás e se dar conta que o que se tem em casa é muito valioso e vale a pena voltar. / Mas a verdade é que viajar é nunca realmente voltar, porque um tanto nosso sempre fica em cada destino riscado dessa lista de sonhos sem fim.


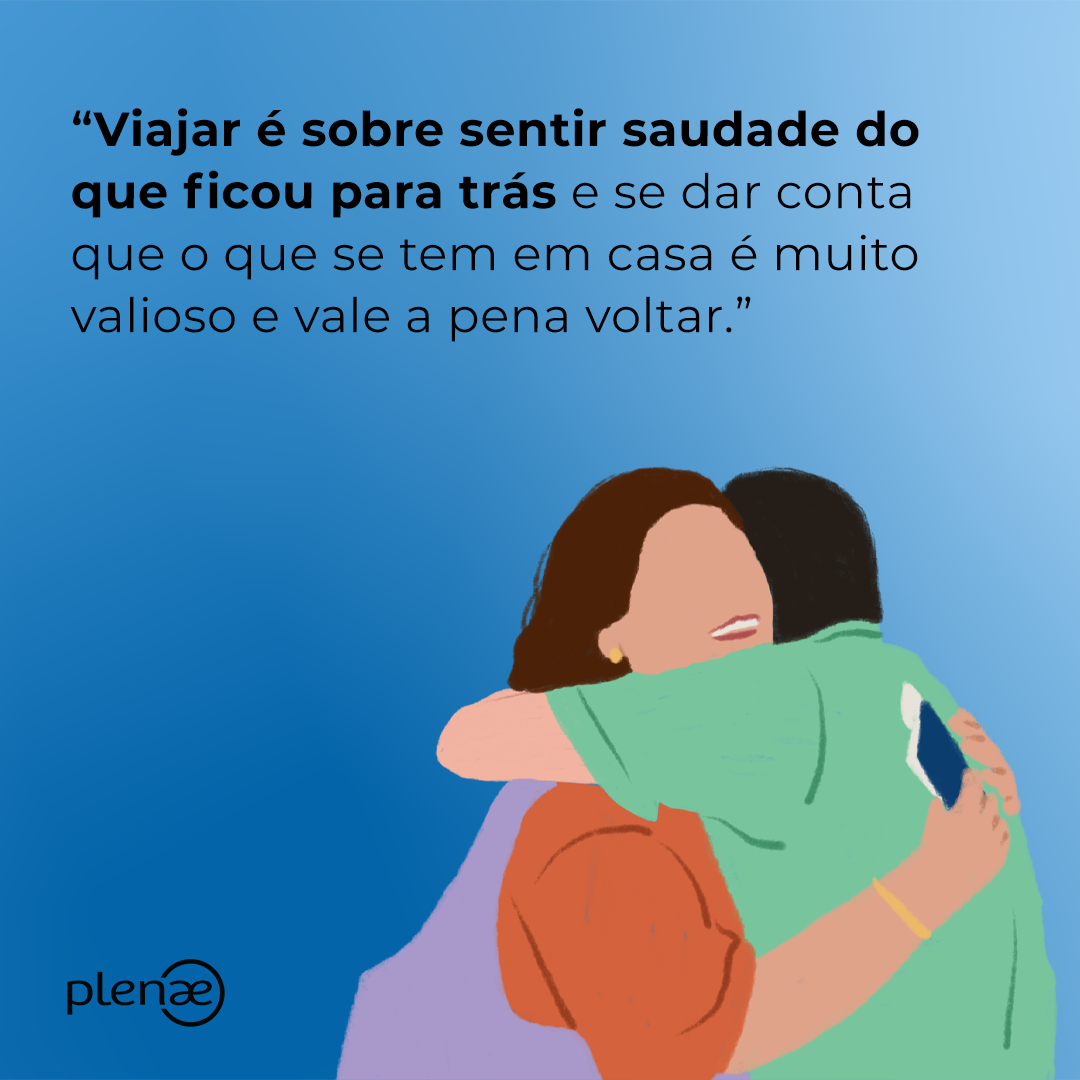

Conteúdos
Vale o mergulho Crônicas Plenae Começe Hoje Plenae Indica Entrevistas Parcerias Drops Aprova EventosGrau Plenae
Para empresas